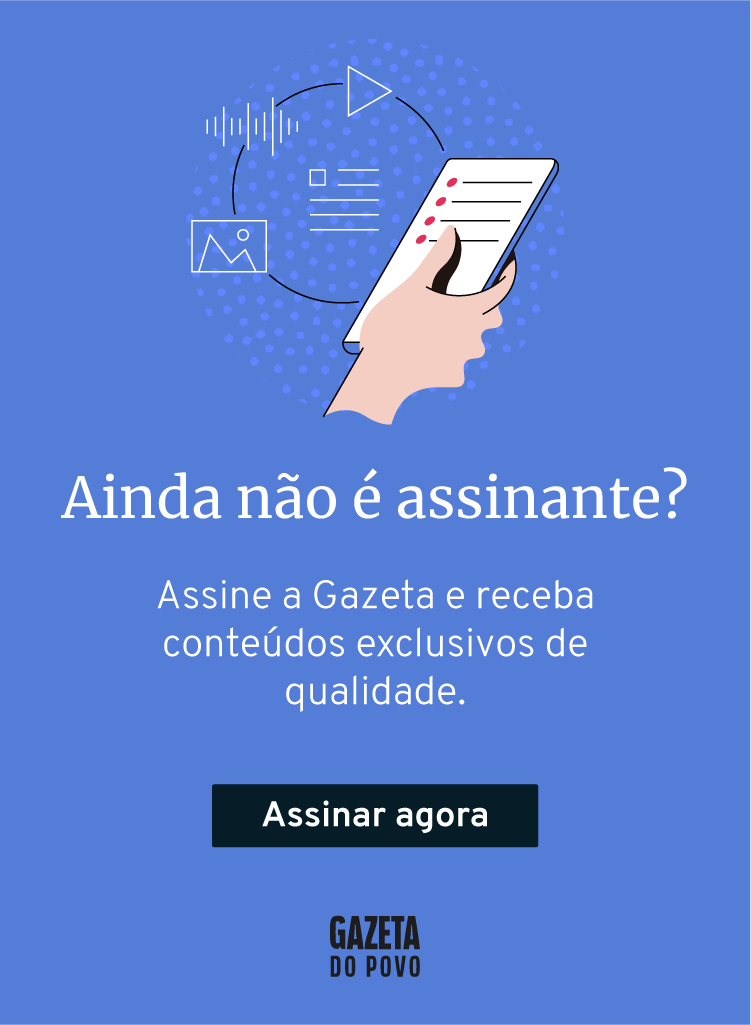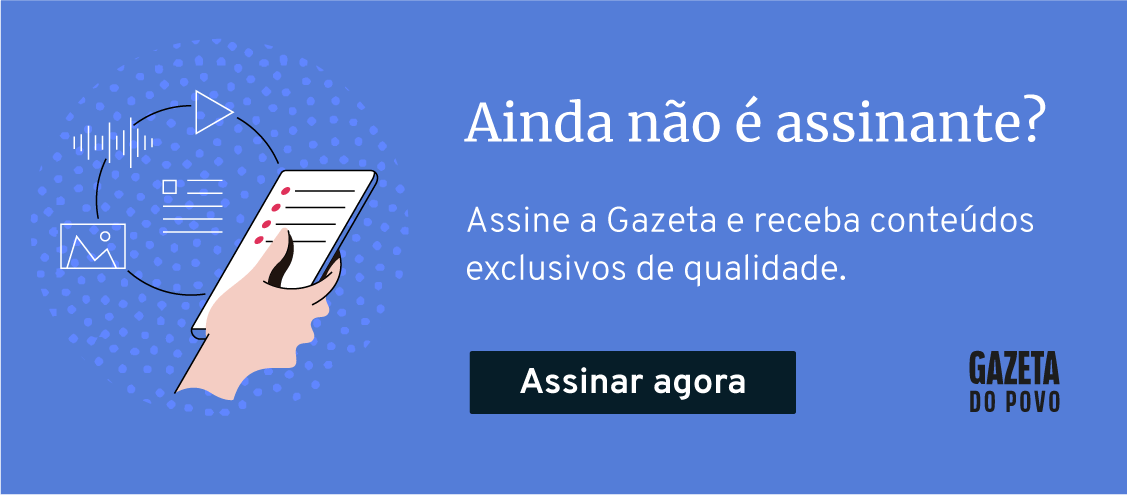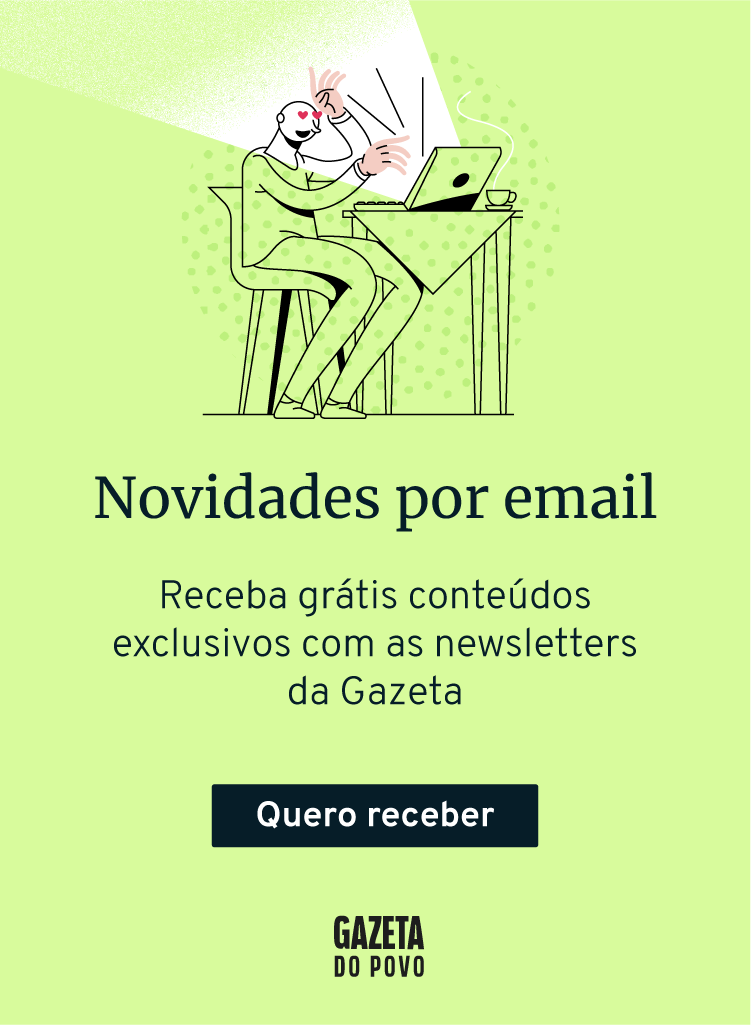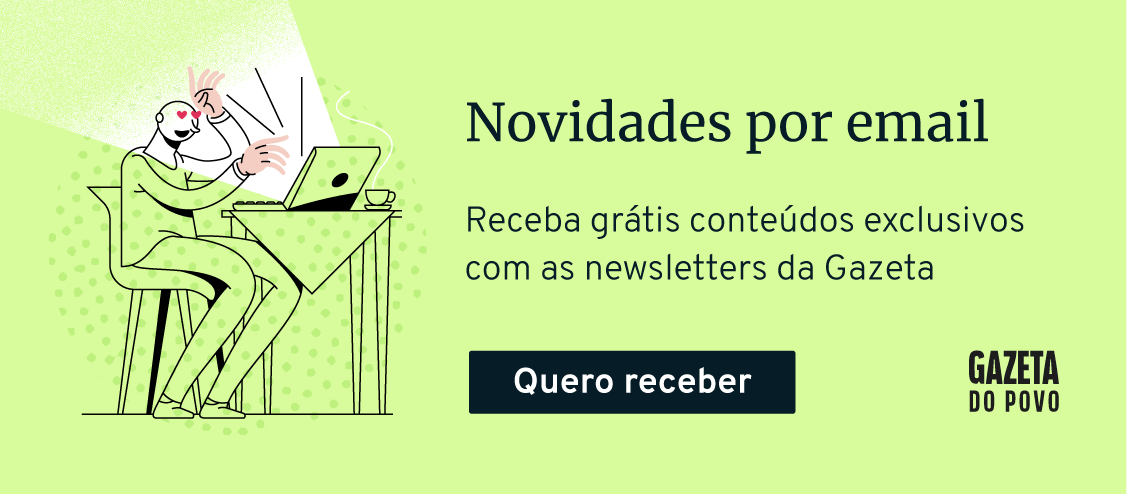50 anos do Tri
Brasil, futebol e arte
Cinco décadas depois, o triunfo da seleção brasileira, campeã no México, e o momento do Brasil, em retrospecto. O jogo, a camisa, crônica esportiva, televisão e música
No futebol, a beleza está atrelada ao sucesso. É por isso que a firula e o drible sem objetivo são condenados. Para alcançar a eternidade, é indispensável que o belo seja efetivado contra o adversário, com quem não há diálogo, nem acordo.
Pelo contrário, o rival se posta em campo justamente para impedir a beleza e, assim, negar-lhe a glória, podendo apelar à violência. A beleza no futebol é, desta maneira, forjada em ambiente de guerra.
Há cinquenta anos, na Copa do Mundo, o futebol, vestido em verde e amarelo, alcançava seu mais alto nível. No México, em 1970, a seleção brasileira conquistava o tricampeonato mundial.
Aliança inigualável entre dribles e gols, entrosamento e talento individual, beleza e efetividade, que marcou para sempre a história do jogo. Esporte, jogado com os pés, em estado de arte e regido pelo maior de todos os tempos, Pelé.
A fantástica bomba de Carlos Alberto Torres, já nos minutos finais do segundo tempo, que selou a goleada por 4 a 1 sobre a Itália na decisão, dia 21 de junho, apenas encerrou a trajetória perfeita de uma seleção feita de sonhos.
Tostão rouba a bola na área brasileira, Clodoaldo enfileira italianos na intermediária defensiva, Rivelino aciona Jairzinho na ponta esquerda, o passe letal do Rei, num aparente vazio...
Reportagem: Julio Filho. | Edição: André Pugliesi. | Ilustração e webdesign: Osvalter Urbinati. | Publicado em: 13/6/2020
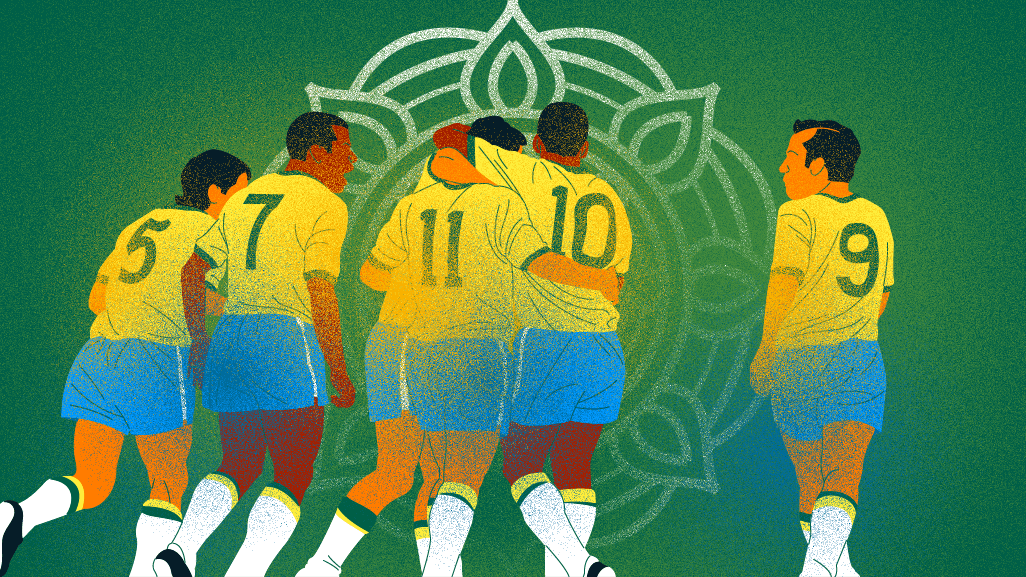
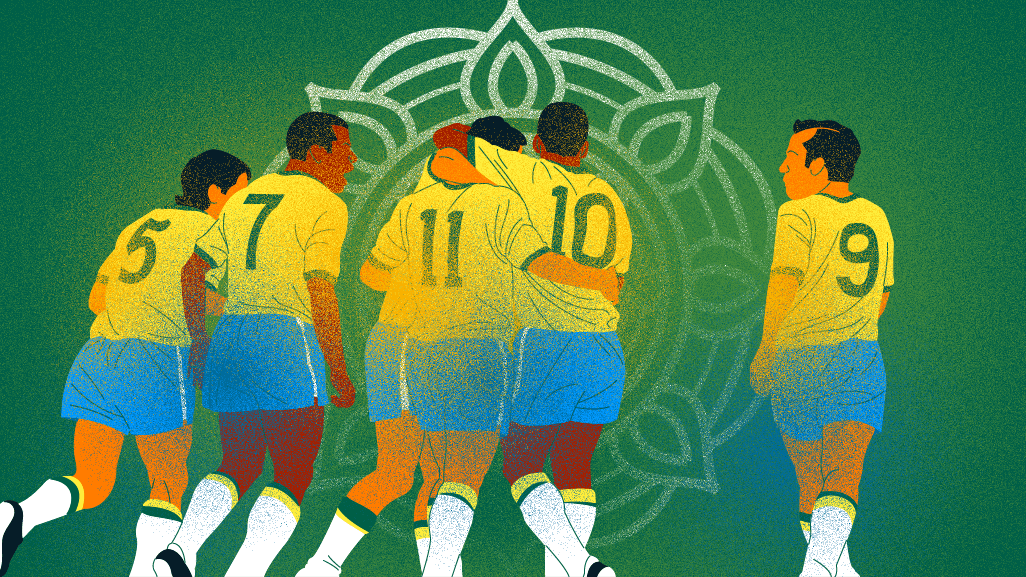
Fronteira
do futebol moderno
“A seleção brasileira de 1970 é a fronteira do futebol moderno”. A incisiva definição é do jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC. “Por mais que a gente pense na Holanda de 1974, o Brasil de 1970 já tinha componentes deste novo futebol, principalmente em termos de movimentação”, esclarece o profissional do SporTV.
“O que o Brasil não tinha em relação à Holanda de 1974 eram a linha de impedimento e a marcação por pressão, mas já tinha a alternância de posições. Esta Holanda era um time fantástico para a época, com Johann Cruyff de falso centroavante, mas o Brasil de 1970 já tinha componentes deste futebol moderno”, ressalta.
Autor de um dos gols da final e um dos craques eternizados naquele timaço, o meia Gerson reforça a importância da equipe para a história do futebol mundial.
“Para mim, foi um dos melhores times do mundo até hoje”, diz.
“Eu reputo duas seleções brasileiras campeãs do mundo como as melhores: a de 1958, pela técnica, e a de 1970, pelo conjunto. No nosso time, do meio de campo pra frente, todos podiam jogar com a camisa 10. E de fato jogavam em seus respectivos clubes”, continua o ex-jogador, que ao deixar o gramado tornou-se comentarista.
Famoso pelos lançamentos longos, o Canhotinha de Ouro diz que relembra até hoje com carinho das bolas que alçava com precisão, atravessando o campo para Pelé e Jairzinho, assim como o gol na decisão contra a Itália, uma pancada de fora da área.
“Os lançamentos eram minha obrigação e eu sabia fazer. Mas eu treinava para aperfeiçoar cada vez mais e tive a sorte de jogar com os atacantes certos na hora certa. No caso da seleção, eu já conhecia o Pelé e o Jairzinho, sabia como eles gostavam de receber a bola”, relembra o niteroiense.
Um dos mais de 107 mil torcedores nas arquibancadas do Estádio Azteca, na Cidade do México, naquele domingo, 21 de junho de 1970, dia do duelo decisivo, o jornalista Edson Militão ainda vibra quando relembra aquela seleção.
“O time era participativo, extremamente elegante. Era um quadro, parecia uma mandala”, elogia. “O Gerson lançando, o Jairzinho invertido na esquerda, a matada de bola de Pelé, a rotatividade: um time dançando tango”, completa.
Militão estava no terceiro anel atrás do gol em que a seleção marcou três vezes na segunda etapa e relembra que, até então, a equipe que havia sido montada por João Saldanha, demitido no início de 1970 por atritos com o então presidente Emilio Médici, encantava pelo talento individual.
“Com o Zagallo, além da individualidade, me encantava a distribuição do time na visão maravilhosa que eu tinha no Estádio Azteca”, relembra.
“Quando eu vi o Tostão desarmando um italiano no segundo tempo na área do Brasil e ele, um centroavante, saindo jogando, tocando a bola na zaga, fiquei encantado. Não existia isso ainda, a Holanda de 1974 ainda não existia. Essa distribuição brasileira inspirou o Carrossel Holandês”, prossegue, relembrando a jogada do quarto gol brasileiro.
É armadilha fácil embelezarmos seleções do passado com nostalgia, elevando-as a um grau acima daquele que realmente alcançaram em comparação a outros times, de diferentes tempos. Não é o caso da seleção de 1970 que, como tornou-se consenso, conseguiu reunir, como nunca, futebol bonito e efetivo.
“O cuidado do analista é tentar olhar com conhecimento, separando-o da nostalgia, o que pode ser muito difícil. Pelo que eu vi e li, a seleção brasileiro de 1970 é a maior de todos os tempos. E não sou apenas eu que digo isso”, emenda PVC, relembrando que a conceituada revista britânica World Soccer consultou especialistas de todo o mundo para, em 2007, eleger a lendária seleção do tri como a maior da história.
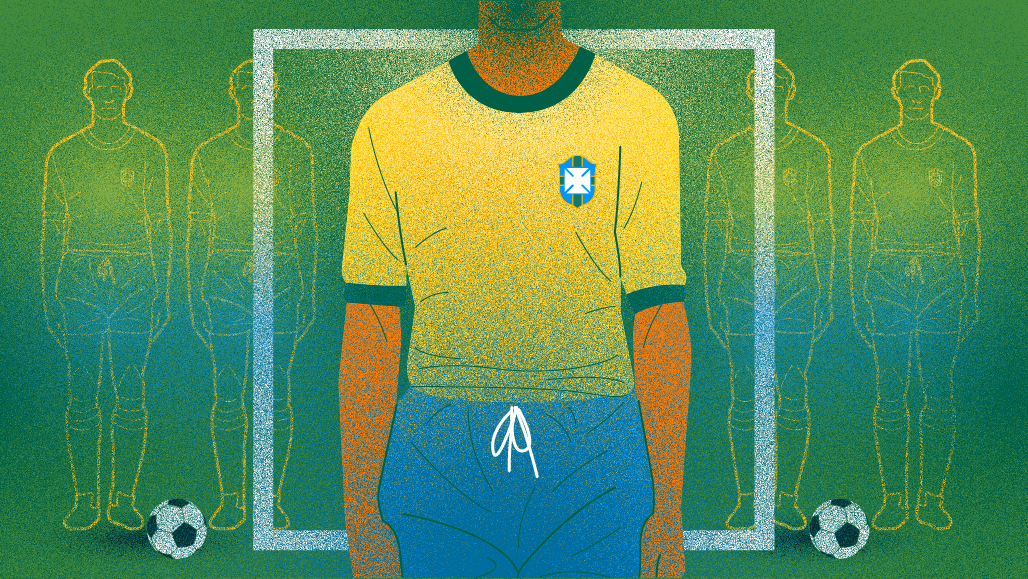
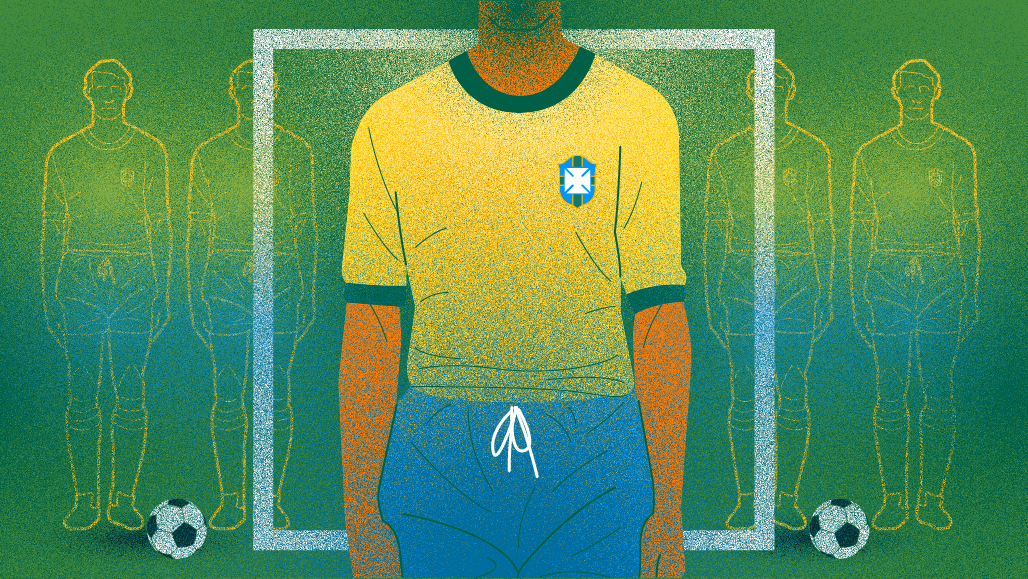
Beleza e revolução
em verde e amarelo
Não foi apenas a seleção comandada por Zagallo que conquistou o planeta naquele domingo, 21 de junho, no vibrante Estádio Azteca, na Cidade do México.
Minimalista, feita de algodão, visual clean: a camisa amarela, com detalhes verdes na gola careca e nas mangas, usada por aquela seleção acabaria eleita, tanto pela BBC, como pelo The Times, publicações britânicas, a mais bonita de todos os tempos, entre clubes e seleções.
“É uma camisa carregada de significados”, analisa a estilista Gabriela Verri, filha do ex-volante e técnico da seleção, Dunga.
“A alteração de cores do verde para o amarelo realçou o escudo da então CBD (atual CBF), o que pôde ser percebido pelo público, que pela primeira vez podia ver os jogos em cores. Isso tudo mexe com a emoção. O design minimalista a torna uma peça atemporal”, continua.
Naquele ano de 1970, a moda no Brasil passava por um processo de transformação, que se via nas vestimentas da elite do país.
“Até os anos 60, a moda no Brasil era muito ligada à cultura europeia. Mais especificamente, às tendências da moda francesa, saídas diretamente de Paris. A elite não queria parecer brasileira”, explica Elizabeth Murilho, professora de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagem da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Elizabeth conta que, a partir dos anos 1970, um aspecto juvenil arrebata a moda europeia e, imediatamente, gera reflexos no Brasil. “Os grandes estilistas saíram de foco e o que estava em alta eram a minissaia, calça jeans, camiseta de algodão, em uma criação mais despojada. A elegância já não era mostrar que você era rico, mas sim que você era jovem”, reforça.
Mesmo assim, as roupas esportivas ainda eram restritas ao ambiente dos atletas, não sendo comum sua utilização pela população em geral.
“No início dos anos 1970, poucos usavam tênis na rua. Ninguém usava roupa esportiva”, afirma Carmen Lúcia Soares, professora de pós-graduação da Faculdade de Educação Física da Unicamp, com trabalhos de pesquisa sobre a evolução das roupas esportivas.
Carmen ressalta o impacto da tecnologia no visual daquela seleção brasileira. “Os shorts eram muito curtos, a camisa grudada no corpo, com os corpos dos jogadores muito mais expostos. O tecido era muito mais pesado”, completa.


Do romance
à análise
A Copa de 1970 serviu como divisor de águas também na crônica esportiva brasileira. Dominava até então no país um estilo livre, romântico, atraente e mais próximo da literatura, que transformava o jogo de futebol em um espetáculo passional, tendo como maior símbolo, Nelson Rodrigues.
“Era uma crônica menos comprometida com o jornalismo e às vezes muito aberta para mitologias, anedotas, boatos e rumores, assim como para a criação de lendas do futebol”, analisa o jornalista e escritor, Sérgio Rodrigues, autor do premiado “O drible”.
Publicada em 22 de junho de 1970, um dia após a conquista da Copa do Mundo, “Dragões de Espora e Penacho”, traz à luz o espírito das criações de Nelson Rodrigues e também a exaltação daquela seleção:
“Amigos, foi a mais bela vitória do futebol mundial em todos os tempos. Desta vez, não há desculpas, não há dúvida, não há sofisma. Desde o paraíso, jamais houve futebol como o nosso”, escreveu o cronista no O Globo.
“Quem fez o gol da Itália, o franciscano gol da Itália, não foram os italianos. Foi uma brincadeira de Clodoaldo. Esse notabilíssimo craque, sergipano quatrocentão, resolveu dar uma bola de calcanhar. O inimigo recebeu o presente, recebeu de graça, o passe e o gol. Ao passo que os gols brasileiros foram obras de arte, irretocáveis, eternas...”, continuava.
Mas, como dito anteriormente, o texto jornalístico vivia uma época de metamorfose naqueles primórdios da década de 1970.
“A partir de 1970, começa um jornalismo mais sóbrio, principalmente na reportagem, mas que alcança também a crônica, que vai se tornando aquilo que é hoje, muito mais uma análise que algo lúdico”, prossegue Rodrigues, citando o jornalista carioca, João Máximo, como um dos precursores e pilares deste novo modelo de jornalismo esportivo no país.
O jornalista e professor universitário José Carlos Fernandes relembra que, até a década de 1970, o jornalismo esportivo ocupava espaço marginal nas redações. O futebol, por sua vez, perdia em destaque para o turfe. A reportagem esportiva ainda era amadora, mas passou a receber reforços importantes de outras áreas de cobertura.
“Muitos jornalistas que estavam encrencados com a ditadura militar foram transferidos para o esporte. Eram pessoas mais ligadas à leitura e não aquele repórter franco-atirador de até então que entrava no jornal em busca de uma carteirinha para assistir jogos de graça”, explica.
A crônica esportiva antes dos anos 70 ainda trazia muitos dos clichês do rádio, em que era preciso fazer com que o ouvinte imaginasse os lances. E isso se traduzia nos chavões que permeavam também o texto impresso nas crônicas dos jornais.
“Se pegarmos a Gazeta do Povo entre 68 e 70, por exemplo, é como se fosse outro jornal. Textos em ordem direta, menos adjetivos, busca por uma avaliação mais técnica, movimento que acompanhava o surgimento de um jornalismo mais industrial no país, com uma geração de profissionais saídos das faculdades”, complementa Fernandes.
“Enquanto o João Saldanha ainda emulava os tiques do rádio, com metáforas, apelidos e um espetáculo de imaginação, o Ruy Castro já escrevia sobre o peso das chuteiras, a idade dos jogadores, aspectos mais factuais”, ilustra o jornalista, que relembra de assistir aos jogos daquela Copa no bar do pai no bairro Água Verde, lotado de clientes apinhados em torno de uma única televisão pequena.
“Lembro que o pai forrou todas as paredes do bar com charges de jornais de cada adversário que o Brasil havia vencido”, conta.
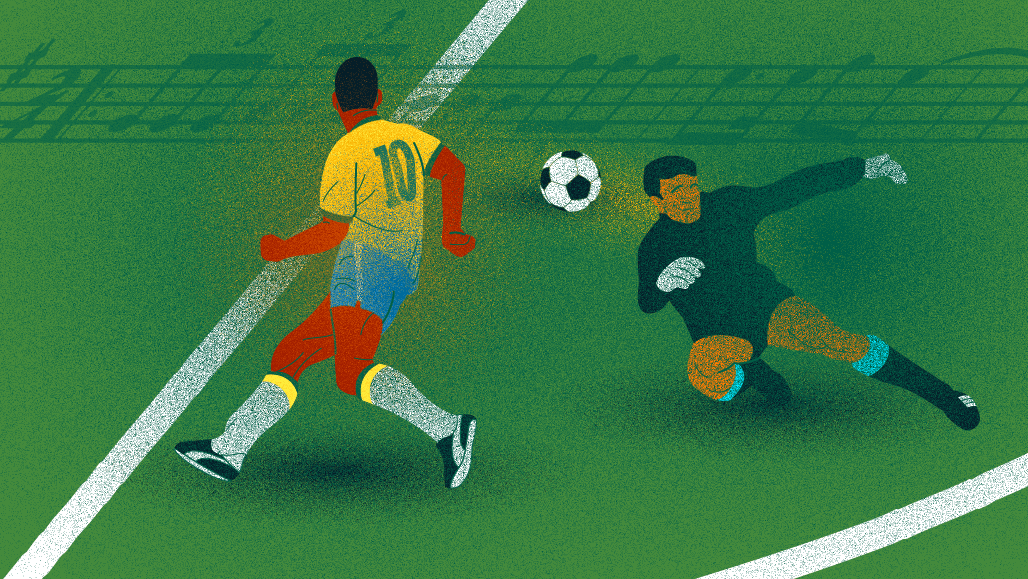
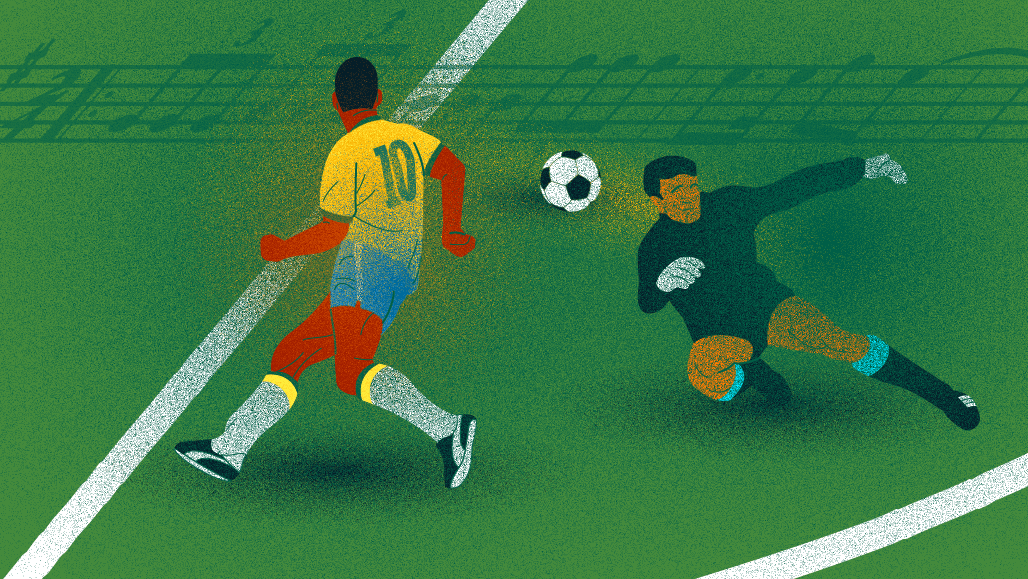
Conquista embalada
por hinos
O jornalista, escritor, professor e historiador Paulo César de Araújo tinha oito anos quando a seleção alcançava a glória no México. Ainda criança, vivia grudado no rádio. “Eu ouvia Martinho da Vila, Wilson Simonal, Roberto Carlos, Nelson Ned, Paulo Sérgio, Antônio Marcos...”, relembra.
Araújo define o ano de 1970 como decisivo em uma transição que ocorria no cenário da música popular brasileira. Uma viagem da tristeza à leveza, da depressão ao ufanismo, intrinsicamente ligada aos movimentos políticos do país, que atravessava a ditadura militar.
O Ato Institucional número cinco, promulgado em 1968, aprofundou o caráter repressivo do regime implantado quatro anos antes. E teve impacto decisivo na produção cultural do período.
“A música brega, que eu chamo de ‘geração do AI-5’, estava no auge, com caras como Nelson Ned e Paulo Sérgio. Eles eram mais ou menos o que é o sertanejo de hoje e estavam bombando, com músicas tristes e dramáticas. Uma geração de artistas jovens que chorava...”, comenta.
Ao mesmo tempo, Tim Maia apresentava ao país a chegada da música soul; Roberto Carlos alcançava o auge com baladas românticas e cantos para Jesus Cristo; Martinho da Vila e Paulinho da Viola traziam o samba tradicional de volta às rádios, após um período em baixa durante os tempos da Bossa Nova, Jovem Guarda e Tropicália.
“E vai chegando mais gente, é uma geleia geral. A virada de 1969 para 1970 é um período rico demais na música mundial e brasileira”, reforça Araújo.
Uma nova geração de músicos esperançosos, embalados por uma visão ufanista, também ganhava espaço. E a seleção tinha seu próprio hino para vencer no México, com “Pra frente Brasil”, composta por Miguel Gustavo, de temática fortemente política e patriótica.
“Os hinos anteriores da seleção falavam de futebol o tempo inteiro, como ‘A taça do mundo é nossa’. ‘Pra frente Brasil’, não. Se você tirar algumas palavras, tudo o mais é discurso ufanista da época, com cunho político, com um governo que pregava a união hegemônica do povo e o sufocamento de qualquer oposição”, explica Araújo.
Transcendendo aquele momento histórico, a canção de Miguel Gustavo se eternizou e está até hoje ligada à história vitoriosa da seleção, assim como à própria identidade nacional brasileira.
“É o que se chama de roteiro perfeito. A música era maravilhosa, a seleção saiu desacreditada e venceu, consagrando o país que crescia economicamente, com a construção de pontes, viadutos, estádios, a explosão da mão de obra e uma classe média no paraíso. A seleção coroou este movimento, foi a cereja do bolo para os militares”, completa.
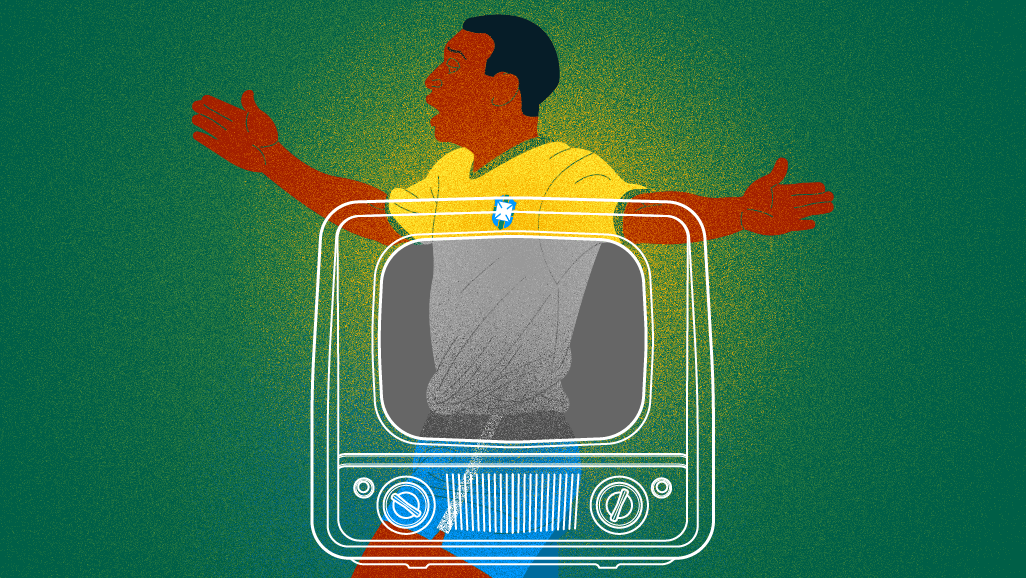
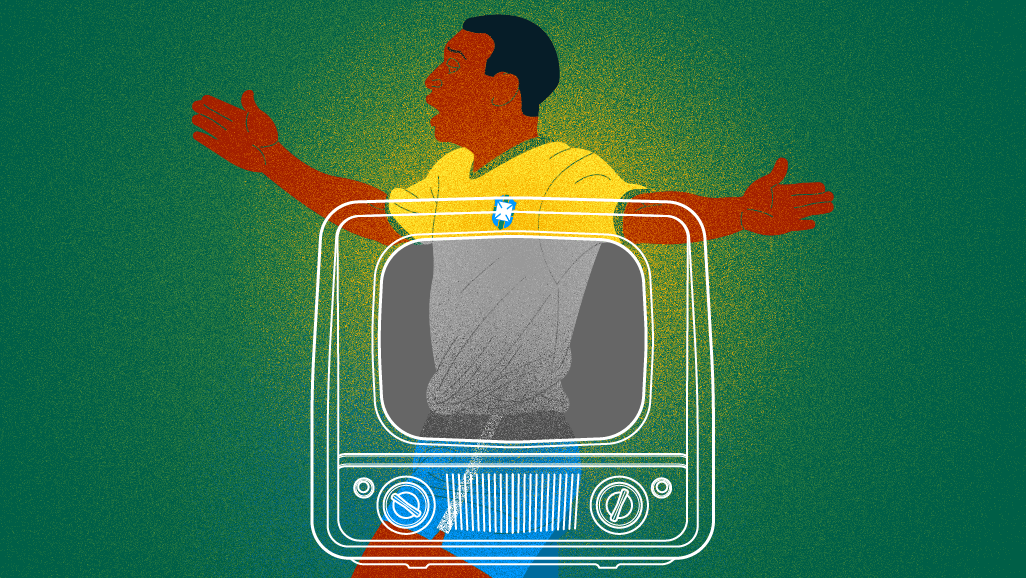
Pela primeira vez, em cores
A Copa de 1970 foi a primeira a ser transmitida ao vivo pela TV, via satélite, para todo o Brasil. Estima-se que 54 milhões de brasileiros puderam ver as partidas que, até o Mundial anterior, de 1966, eram acompanhadas pelo rádio.
Apesar das imagens chegarem coloridas ao país, as TVs em preto e branco ainda dominavam os lares brasileiros. Poucos privilegiados, como o presidente Emílio Garrastazu Médici, assistiram às partidas em cores, com outro impacto visual.
“Esta transmissão em 1970 só foi viabilizada em 1968. Até então, existia o risco de não haver transmissão no Brasil”, relembra o jornalista Flávio Ricco. “O governo militar, na ocasião, alegava falta de recursos para construir uma estação captadora de imagem via satélite. Por pressão popular, isto acabou acontecendo em 1969”, continua.
Com o comando da Embratel, as imagens enviadas do México via satélite eram transmitidas para as antenas de Itaboraí, interior do Rio de Janeiro, e do Edifício Itália, em São Paulo, da onde eram retransmitidas para o resto do país. O custo das transmissões, na época, girou em torno de 1 milhão de dólares.
Foi apenas após muita negociação que se definiu que a transmissão seria feita no formato de pool, com Tupi, Globo e REI (Rede de Emissoras Independentes) recebendo o mesmo sinal e se alternando na transmissão.
“Eram transmissões mais ufanistas do que nunca. Muita gente reclama do Galvão Bueno, por exemplo, mas nos anos 70 a gente tinha o Geraldo José de Almeida com um tom pró-Brasil muito acima do normal”, explica o repórter especializado em mídia e TV, Gabriel Vaquer.
“A Copa de 70 foi a consagração da televisão, que virou produto de massa no final dos anos 60 com as novelas”, prossegue. A final, por exemplo, alcançou 100% de audiência. As transmissões traziam novidades para a época, como o replay, consagrado no Brasil como repeteco. Apenas cinco câmeras davam conta da transmissão.
No Brasil, o futebol já era transmitido pela TV desde os anos 50, de forma bastante amadora. Quando a Federação Paulista, no entanto, resolveu cobrar pelos direitos de transmissão, as tevês desistiram e passaram a investir em outros programas, como o Jovem Guarda, criado pela Record, que faria estrondoso sucesso.


6 vitórias,
23 gols
Em 1970, a então bicampeã mundial seleção brasileira tinha a responsabilidade de apagar o vexame vivido quatro anos antes, quando foi eliminada ainda na fase de grupos do Mundial de 1966.
A Copa do Mundo também tinha valor especial para Pelé. Após conquistar os títulos de 1958 e 1962, o Rei do Futebol deixou o Mundial de 1966 lesionado, após duelo com o zagueiro português Morais, na derrota para Portugal.
Aos 29 anos, Pelé sofria algumas contestações e chegou a ser barrado de um amistoso contra o Chile na campanha preparatória. A desconfiança foi como combustível para o Rei, que conduziria a seleção ao tri no México e acabaria eleito o melhor jogador da disputa, consagrando-o ainda como o maior de todos os tempos.
A missão de recuperar Pelé e remontar a equipe nas Eliminatórias para a disputa no México coube ao então comentarista João Saldanha, que já havia sido técnico do Botafogo. A campanha foi excepcional: foram seis vitórias em seis jogos, com 23 gols marcados e dois sofridos. Retrospecto que recuperou a confiança da torcida na seleção.
A fantástica campanha, entretanto, não garantiria Saldanha no comando do time no Mundial. Militante de esquerda, o treinador criticava o cada vez mais repressor regime militar, principalmente após a ascensão de Emílio Garrastazu Médici. Começava ali uma disputa nos bastidores entre treinador e governo que terminaria com a demissão de Saldanha.
Uma derrota em amistoso preparatório para a Argentina, em março de 1970, no Beira-Rio, começou a levantar algumas críticas à seleção, com um time que tinha perdido parte do encanto das Eliminatórias e começava a apresentar problemas de relacionamento entre Saldanha e alguns de seus colegas, assim como com a então CBD (hoje CBF), afinada ao regime militar.
O estopim foi uma resposta atrevida do treinador, também em março, quando perguntado sobre o pedido do general pela convocação do atacante Dario, o Dadá Maravilha, do Atlético Mineiro. “Ele [Medici] escala o Ministério, eu convoco a seleção”, disparou.
Duas semanas depois, Saldanha acabaria demitido e substituído por Zagallo, que contaria com a ajuda do preparador físico Cláudio Coutinho, para conduzir a seleção rumo à conquista da Taça Jules Rimet.
Coube ao Velho Lobo afinar aquela seleção. No último amistoso antes do Mundial, Zagallo a escalou na vitória por 1 a 0 sobre a Áustria, no Maracanã, em abril, com: Félix; Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza e Marco Antônio; Clodoaldo, Gérson e Rivelino; Rogério, Pelé e Tostão. O esboço de um time que encantaria o mundo.
Apenas duas peças mudariam em relação à escalação clássica usada no México. Everaldo e Jarizinho ocupariam as vagas de Marco Antônio e Rogério. Apesar disso, a seleção saía do país desacreditada, tendo contratado Zagallo a apenas 77 dias do Mundial. Para piorar, torcida e imprensa criticaram o trabalho do novo técnico nos seis amistosos que fez antes da Copa.
Campanha
O Brasil estreou no Mundial com vitória por 4 a 1, de virada, sobre a Tchecoslováquia. Os gols brasileiros foram anotados por Rivellino, Pelé e Jairzinho (duas vezes). Na segunda rodada, vitória por 1 a 0 sobre a então campeã mundial, Inglaterra, gol de Jairzinho.
Na terceira partida, triunfo por 3 a 2 sobre a Romênia, tentos de Pelé (duas vezes) e Jairzinho, garantindo classificação na liderança do Grupo 3. Nas quartas de final, o Brasil goleou o Peru por 4 a 2, gols de Rivellino, Tostão (duas vezes) e Jairzinho.
Na semifinal, o Brasil saiu perdendo para o Uruguai logo 19 minutos de jogo. Mas acabaria virando no segundo tempo para 3 a 1. Clodoaldo, Jairzinho e Rivellino foram às redes.
Na finalíssima, a seleção saiu na frente contra a Itália, gol de Pelé, aos 18. Boninsegna empataria para os italianos aos 37. Mas, na etapa final, Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres selariam a vitória por 4 a 1 e o título. Pelé acabaria eleito o melhor jogador da Copa, levando a Bola de Ouro, com Gérson conquistando a Bola de Prata. Jairzinho seria o vice-artilheiro da competição, com sete gols, três atrás do alemão Gerd Müller.
Imagens
do Tri
Expediente
Reportagem: Julio Filho. Edição: André Pugliesi. Imagens: Estadão Conteúdo e O Globo. Ilustração e webdesign: Osvalter Urbinati.